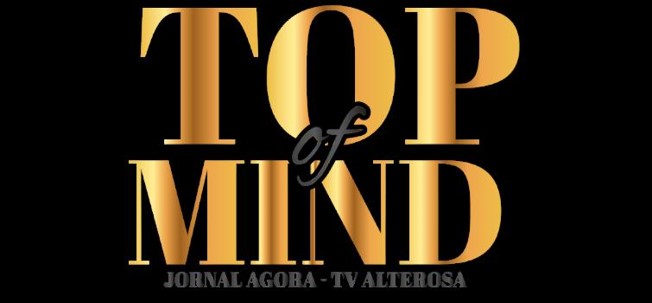Quem controla o circo? Quem manda no palhaço?

CREPÚSCULO DA LEI – Ano IV – LXXV
QUEM CONTROLA O CIRCO? QUEM MANDA NO PALHAÇO?
Quando dom João VI chegou ao Rio de Janeiro em 1808, trouxe muito mais que o medo de Napoleão. Trouxe o pensamento feudal que rapidamente se alinhou com o escravagismo latifundiário para potencializar o projeto colonizador.
Morria o Brasil Tupi e nascia o "Reino Unido" do Brasil português.
Esse novo “estado de coisas” legitimava para o Brasil uma justiça divino-monárquica nos moldes Bossuet – Bodin, mas com influência do “mos italicus”, ou seja, a ideia de um direito a ser divulgado, repetido e decorado.
Nesse contexto, a suprema magistratura pertencia ao monarca e qualquer ato de “dizer o direito” era, tão somente, a confirmação da vontade do próprio monarca. Evidentemente que o monarca, para bem exercer sua “justiça”, contava com um conselho de parentes e amigos muito instalados em um aparato fortemente simbólico chamado “nobreza”.
Naquela época já era conhecida uma obra de um sujeito conhecido por Montesquieu, um livro com nome pomposo (“O Espírito das Leis”, 1748), mas – provavelmente – não deram muita atenção a ele talvez pelo fato de “não dar bola” a uma pessoa que “comprara” para si o título de juiz.
De qualquer forma, outros tantos resolveram acolher aquela literatura, talvez por comodidade, talvez por conveniência, mas, por aqui, nem isso. Por estas bandas ninguém mencionava sobre uma tal “divisão do poder”.
Ao contrário, dom João foi logo estabelecendo uma Intendência Geral da Corte no mesmo ano de 1808 (dizem as más línguas que o temor maior foi a revolução haitiana), entregando sua chefia ao desembargador (?) Paulo Fernandes Viana, com poderes para policiar, processar e julgar.
Claro que os tribunais da época – para bem exercer esse “mister” – impediam o ingresso de negros, mulatos, ciganos, judeus ou cristãos novos e pobres. Mulheres, nem pensar.
Os juízes e professores vinham de Portugal, principalmente aqueles formados em Coimbra. De lá traziam ideias de raças inferiores e de delinquentes natos para bem serem aplicadas em favor dos senhores do agronegócio, ou melhor, dos latifundiários escravagistas, senhores de “engenho”.
O símbolo da “justiça” naquela época não era a balança, mas o feixe de varas (“fascio”romano) com um machado na ponta – os quais ainda podem ser encontrados nas instituições do Rio de Janeiro histórico –, bem representativo do poder punitivista que indicava.
Ora, o que se tem hoje para além das mesmas cores do colonizador na bandeira (o verde da Bragança e de Pedro I, bem como amarelo dos Habsburgos austríacos e de Leopoldina)?
[Sempre é bom lembrar que o corante extraído do pau Brasil é vermelho. Portanto, esse papo de que o verde-amarelo representam nossas “riquezas” é pura lorota, e a conversa de que “nossa bandeira jamais será vermelha” é puro desconhecimento das origens do país.]
Tem-se hoje um títere oligárquico, autoritário, com uma corte formada por familiares e amigos, desrespeitador da Constituição, inimigo de pobres, negros, mulheres e todos os vulneráveis.
Trata-se de uma estrutura “panis et circenses” que se armou de uma tenda teomiliciana, disposta a qualquer ato para se manter afastado da imputação das centenas de crimes que já praticou. Para tanto distribuiu “amigos” estrategicamente postados em funções chaves que lhe garantem toda sorte de “imunidades” nas mais variadas falcatruas, ao ponto de debochar acintosamente da racionalidade jurídica ao dizer que “não existe corrupção” em seu governo.
Tem-se hoje a mesma desilusão de outrora.
Mas por isso a esperança também é a mesma, porém, acompanhada de um desiderato para os dias atuais: o Napoleão de hoje não está ultramares, mas bem perto, chegando com sua frota de urnas.