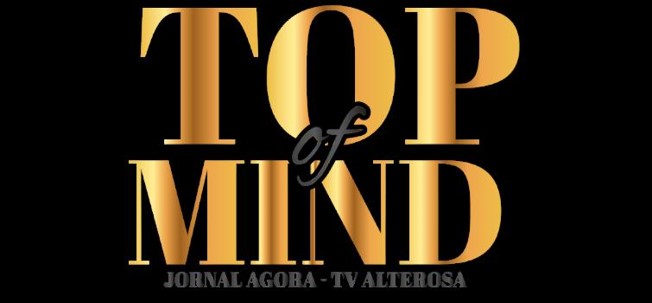O que Divinópolis aprende com a eleição no Congresso?

Por Márcio Almeida Jr.
Na primeira de uma série de análises exclusivas para os leitores virtuais do Agora sobre temas atuais, nosso novo colaborador explica em linguagem simples e direta a tumultuada eleição dos presidentes da Câmara e do Senado feita na segunda-feira e mostra que a polêmica interferência do presidente Bolsonaro na disputa, longe de ser uma atitude pontual, é parte de uma tradição política já institucionalizada no Brasil, que explica aspectos tanto das políticas federal e regional quanto da municipal
Há uma mistura de incoerência e desinformação em parte das críticas feitas ao “toma lá dá cá” que permitiu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) influir na eleição dos novos dirigentes do Congresso Nacional. Realizadas na tumultuada sessão de segunda-feira (01/02), as eleições foram vencidas por Arthur Lira (PP) na Câmara e por Rodrigo Pacheco (DEM) no Senado. Para ajudar a eleger seus aliados e, entre outras possibilidades, dificultar a tramitação dos mais de 60 pedidos de impeachment apresentados contra ele no Congresso, o presidente determinou a liberação de recursos para a execução de emendas ao orçamento feitas por parlamentares e ofereceu a eles a possibilidade de indicar nomes para ocuparem cargos em órgãos do governo. Ambas as práticas, das quais o Executivo não fez segredo, seguem a receita da “velha política” que durante a campanha e no início de seu mandato Bolsonaro prometeu a seus eleitores jamais fazer.
Além de ser apontada como exemplo daquilo que a ciência política chama de “fisiologismo”, em referência aos parlamentares que só “funcionam” à base da troca de favores com o Executivo, a influência direta e aberta de Bolsonaro na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é criticada por seus adversários pelo fato de comprometer a independência entre os poderes. Embora sejam verdadeiras as críticas, já que as práticas fisiológicas “domesticam” o Legislativo e comprometem sua imprescindível função de fiscalizar o Executivo, elas não constituem toda a verdade, que passa por fatores mais complexos e profundos da história e da legislação brasileira. Conhecer tais fatores é útil não só a quem se dispõe a ler notícias sobre o Congresso, mas também aos que buscam entender o funcionamento das câmaras de vereadores, já que o fenômeno do fisiologismo também pode ocorrer — e frequentemente ocorre — no nível municipal.
Uma crítica incoerente
Como ficou dito, deixar de lado a análise desses fatores tanto é incoerência quanto desinformação. A incoerência se mostra em duas frentes. Em uma delas, muitos críticos têm enfatizado que Bolsonaro "comprou" parlamentares, mas não dão a mesma ênfase ao fato de o eleitorado brasileiro, apesar de o problema ser antigo, continuar a eleger deputados e senadores que — sem talento ou disposição para as funções de legislar e fiscalizar — limitam seus mandatos a uma sequência de solicitações ao Executivo, trocando seus votos em plenário pelo atendimento das demandas localizadas que apresentam aos governantes. Tais parlamentares não raro integram legendas sem consistência ideológica e sem programa partidário, as quais, na prática, se comportam muitas vezes como partidos de aluguel. Assim, do Congresso para as assembleias legislativas e destas para as câmaras de vereadores, a prática fisiológica se espalha pelo país, diminuindo o Legislativo perante o Executivo e empobrecendo a vida política da República.
A outra frente em que se mostra a incoerência dos críticos da recente ação de Bolsonaro no Congresso é vista, sobretudo, no campo partidário da esquerda. Neste campo, muitos críticos não percebem ou fingem não perceber que governos de esquerda fizeram o mesmo que eles agora reprovam no comportamento do presidente ao ingerir na escolha de dirigentes do Legislativo. Tal ingerência se deu, por exemplo, no governo do PT e começou já no primeiro dos dois mandatos do ex-presidente Lula (2003-2006). Eleito sem base parlamentar suficientemente ampla para aprovar seus projetos, Lula foi buscar apoio no mesmo Centrão cujos serviços estão agora alugados a Bolsonaro. A negociação, escancarada pela mídia, foi feita entre o petista José Dirceu, à época secretário da casa civil, e ninguém menos do que o então deputado e futuro presidente Michel Temer. Tanto Temer quanto o ex-governador mineiro Newton Cardoso e o ex-presidente José Sarney, entre outros caciques do antigo PMDB, receberam os cargos que pediram, e eles foram muitos, além de fartas emendas parlamentares. Nos anos seguintes, a compra de apoio político pelo Palácio do Planalto cresceu tanto que já não foi possível ao PT fazê-la pela via da legalidade. Nascia ali, com inspiração em prática semelhante do PSDB mineiro, o criminoso Mensalão, esquema de repasse de verbas a parlamentares em troca de votos no plenário para os projetos de Lula.
Desinformação
Se há evidente incoerência em algumas das críticas feitas a Bolsonaro em razão de sua ingerência nas eleições internas do Congresso, não é menos evidente a desinformação de muitos críticos quanto às questões mais complexas e profundas que envolvem as relações entre Executivo e Legislativo no Brasil. Nessa perspectiva, os críticos atuais são rápidos ao lembrar que os poderes devem ser independentes, como preceitua a Constituição, mas não tão rápidos ao lembrar que tais poderes, também por força de disposição constitucional, devem ser harmônicos e cooperar um com o outro para que siga adiante cada política pública que se pretenda implementar. Como têm apontado os especialistas, há poucas possibilidades de os governantes fugirem hoje ao “toma lá dá cá” com o Congresso, porque essa prática está, de fato, institucionalizada no sistema político brasileiro desde que se inaugurou a ordem institucional trazida pela Constituição de 1988. A mesma prática, guardadas as diferenças de proporção e características, se mostra nos planos estadual e municipal.
Nessa perspectiva, por mais que se abominem práticas como as que Bolsonaro protagonizou nos últimos dias ao influir na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, é preciso concluir que o texto constitucional de 1988 tornou incontornável a necessidade de grupos ou coalizões legislativas que deem suporte às ações do Executivo. Por conseguinte, tornou-se inevitável que o presidente da República — por mais que fale em afastar-se da “velha política”, como falou o então recém-empossado Bolsonaro — tenha necessidade imperiosa de negociar com um Congresso nem sempre ético em suas demandas. Tal situação costuma ser chamada por cientistas políticos brasileiros de "presidencialismo de coalizão", segundo o nome que lhe foi dado por um deles, o carioca Sérgio Abranches. Esse fenômeno está baseado em três elementos constitucionais entrelaçados que nem sempre são bem compreendidos.
O primeiro elemento é a constitucionalização de políticas públicas, assim entendidas todas as ações realizadas pelo governo. Para explicá-la, é útil partir da distinção que os especialistas costumam estabelecer entre os termos ingleses “polity” (normas de caráter geral que tratam de direitos fundamentais e devem ficar na Constituição) e “policy” (normas mais específicas que tratam das políticas públicas de um governo e devem estar em leis e outros tipos de legislação ordinária). Ao contrário do que prescreve essa distinção, praticada em democracias mais maduras, no Brasil as políticas públicas estão, em boa parte, esboçadas na Constituição e não em leis ordinárias. Isso foi feito pelos legisladores constituintes com a louvável intenção de, após duas décadas de regime autoritário, restringir os poderes do Executivo aos limites da Lei Maior e impedir que suas ações ultrapassem a ética e desrespeitem o interesse público nela previstos. O resultado prático dessa opção, porém, é no mínimo polêmico. Assim, para que um presidente coloque em movimento as políticas públicas estruturantes previstas em seu programa de governo, tais como as que alteram a tributação e o limite de gastos públicos, ou ainda o financiamento da saúde e da educação, precisará forçosamente emendar a Constituição, que não por acaso, aliás, já tem 106 emendas.
O segundo elemento constitucional — na verdade, uma decorrência do primeiro — é a exigência de maioria qualificada de parlamentares (3/5 do Congresso, em algumas circunstâncias) para mudar a Constituição e introduzir, alterar ou retirar dela dispositivos com a finalidade de possibilitar as medidas pretendidas pelo chefe do Executivo. Feita, assim como a constitucionalização de políticas públicas, com o nobre objetivo de impedir que ventos ditatoriais voltem a soprar sobre a vida política e desrespeitem preceitos constitucionais, esta exigência é vista por alguns especialistas como um bom remédio que tem, entretanto, sido ministrado com exagero. No fim das contas, o que ocorre agora com Bolsonaro é o que se deu com os ex-presidentes Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Lula: ou contam com amplo número de apoiadores no Congresso, assegurando maioria qualificada de votos para emendar a Constituição, ou simplesmente não realizam a parte de seus planos de governo que depende de ajustes constitucionais, já que no Brasil, como ficou dito, as bases e diretrizes das políticas públicas estão esboçadas constitucionalmente. Existe, é claro, a opção de enfrentar o Legislativo e tentar à força o que poderia ser obtido com jeito. Foi essa a alternativa de Fernando Collor e Dilma Roussef, ex-presidentes que, talvez não por coincidência, sofreram processos de impeachment em 1992 e 2016, respectivamente. No caso de Dilma, como se sabe, a reação dos congressistas, na forma de um polêmico processo de cassação de seu segundo mandato, veio do mesmo Centrão agora em evidência com Bolsonaro.
O problema se agrava com o terceiro fator constitucional, que diz respeito ao sistema partidário brasileiro. Para entendê-lo, é preciso lembrar o estímulo que a Constituição de 1988 e a legislação eleitoral em vigor deram ao multipartidarismo, isto é, a relativa facilidade, pelas regras atuais, de se criarem partidos na política nacional. Novamente, o que se tem aqui é algo feito com nobre intenção, desta vez a de resguardar a democracia das limitações impostas pelo bipartidarismo introduzido pelos governos militares, quando só estavam autorizados a funcionar a Arena (de situação) e o antigo MDB (de oposição). Entretanto, a dose do remédio constitucional preventivo mais uma vez foi excessiva, conforme avaliação praticamente unânime de cientistas políticos e juristas brasileiros. Assim, o multipartidarismo descontrolado ajudou a criar as já mencionadas siglas sem consistência ideológica e sem programa partidário que hoje povoam o Congresso. No contexto do "presidencialismo de coalizão", em que o apoio da maioria parlamentar é o oxigênio do governo, tais siglas encontram terreno fértil para plantar suas negociatas e se comportar como partidos de aluguel. E assim se fecha o círculo vicioso das relações perigosas entre os poderes políticos da República.
A conclusão impõe-se por si mesma. A distorção ética e política que os críticos apontam — com razão, repita-se — na recente ação de Bolsonaro ao influir de modo direto e aberto na escolha de presidentes da Câmara e do Senado não deveria surpreender ninguém no Brasil. Ela é só o capítulo de uma prática distorcida que aguarda, há mais de trinta anos, que venha a cada vez menos provável Reforma Política. Enquanto não se extirpar o mal pela raiz, criando novas regras para a vida política, incluindo a limitação de partidos e o fortalecimento de sua linha ideológica e da fidelidade partidária, entre outras providências necessárias, gritar contra Bolsonaro em razão de uma prática já institucionalizada na vida brasileira soa apenas como mais do mesmo.